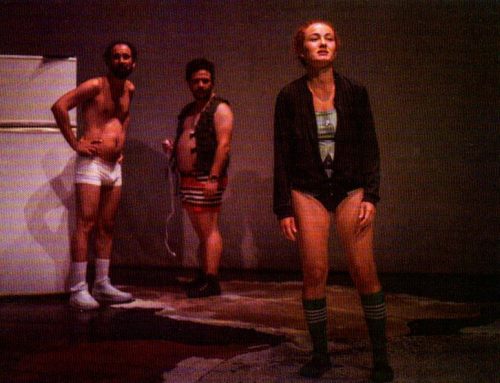Texto sobre o espetáculo Cavalgando Nuvens, escrito por Ruy Filho (revista Antro Positivo)
Um tiro atravessa a cabeça e atinge mais do que o corpo. Destroça junto, feitos os pedaços de crânio que se espalham dentro desse corpo, a capacidade de construir linguagens, a dimensão de presença e convívio com o passado. Não mata aquele que atinge. Mas assassina, sobretudo, o sujeito que por ele se manifestava, distanciando homem e sua representação social de modo definitivo. Esse é o paradigma mais complexo, dentre outros pequenos desenhos que circunscrevem esse novo corpo, utilizado para se atingir a instância política da invalidação do sujeito, utilizada por Rabih Mroué ao contar e se apropriar da história de seu próprio irmão. Se necessária ser real a narrativa, é outro ponto a ser considerado. Afinal, o quanto a realidade é importante ao teatro, ainda que o documental, uma vez em cena, é sempre subjugado ao contexto da ficção? Importa. E muito. Pois aquele sobre o palco é também a dimensão da realidade inacessível por ele mesmo. A afasia, nome dado à incapacidade de construir linguagem, sua sequela particular, diz muito sobre a verdade do que ele vivencia. Não há para ele metáforas, ressignificações, subjetividades, signos, representações. O que vivencia em cena é uma espécie de acontecimento real em plano de negação ao teatro que facilmente projetamos existir. Não se trata mais, portanto, de uma cena. O que assistimos é o estado pleno de existência de um acontecimento sobre o percurso de alguém. Isso é maior do que o teatro em si, do que sua ficcionalização, do que as técnicas dramatúrgicas para construção de efeitos narrativos. É alguém, um outro destituído de sujeito, esvaziado de história, uma vez que perdera a dimensão acumulativa de experiências e percepção crítica de si. O tiro que acerta o homem vai além. Atinge, enquanto assistimos às suas consequências sobre esse alguém, também a dimensão teatral da manifestação social.
Sem o sujeito, temos o convívio com um corpo em estado de reinvenção. Não está pronto, pois não lhe é possível corresponder a fins estruturados e específicos. Trata-se, antes de ser outro ator ou performer, da presença bruta, pré- simbólica, resumida em sua aparição e nada mais. Inevitavelmente, por não estarmos em iguais condições, tratamos de impor-lhe as figuras de linguagens e sentidos. Contudo, essas são nossas, apropriando da materialidade disponível para completá-la aos interesses de nossas expectativas sobre como devemos reconhecê-lo e classificá-lo. Condições impositivas ao nosso racionalismo para assegurar sua validade política na esfera das relações humanas.
Só que o diálogo se faria se algo mais se fixasse aos dois lados envolvidos. O que não é possível. O que não ocorre. Luhmann denominou esse processo de incapacidade de atingirmos a plenitude do reconhecimento por improbabilidade da comunicação. Ainda que sua pesquisa fosse um debruçar sobre os porquês dos desentendimentos entre o que se diz e o que se entende, o mesmo pode ser aplicado ao corpo como discurso sócio-político em ambientes específicos. Ou seja, exatamente por ser um lugar determinado a um fim, nesse caso o teatro, o corpo deveria trazer em si as explicações do que ali significa ser. Curiosamente, o filósofo alemão não vem da linguística, e sim do direito.
O procedimento cênico que busca dar minimamente os contextos para trazer ao corpo um rascunho novo de identidade apropria-se de ecos do próprio teatro. O homem em cena apresenta suas memórias em vídeos curtos e muitas vezes abstratos sobre si mesmo. Suas falas gravadas são lembranças apropriadas de sua história, as quais não é possível reter. A dimensão dessa exterioridade de tudo aquilo que talvez seja é a soma de escolhas aleatórias ao instante. Afinal, e se for trocada a ordem das imagens? E se as falas errarem os contextos ao serem sobrepostas? Qual novo homem surgirá disso? Certamente, não o mesmo. O passado construído, portanto, resume a precariedade de sua manifestação incompleta e inviável. Ainda que a história permaneça, é o sujeito quem não se define, ou, ao menos, se define cada vez por ângulos próprios descolado do próprio corpo. Lembra, em tudo isso, de uma maneira revisitada, A Última Gravação de Krapp, de Samuel Beckett. Com uma diferença fundamental: para o dramaturgo, o homem percorre sua vida como um processo de perceber a própria morte; enquanto que em Mroué, o homem percorre supostamente sua memória como processo de conceber a si mesmo a perspectiva de vida.
Nem todas as citações, já que não devemos reduzir em lembranças os acúmulos em voz e imagem, são claras e autoexplicativas. É a improbabilidade de Luhmann comprovando a necessidade de contexto às memórias e conclusões. Não existindo, permanecem mais ao campo poético de um existir em movimento ao devir do que ao presente. Uma identidade que ainda se formula como preparação a outro sujeito; por conseguinte, a outra constituição da manifestação política ao ser. O quanto o espetáculo se realiza, depende do quanto estamos abertos ao poético e à sua capacidade de sensibilização ao homem e não apenas à sua história. Mas, e principalmente, depende do quanto estamos disponíveis a superar as objetividades pragmáticas sobre o utilitarismo do outro, para recompô-lo ao campo simbólico apenas como manifesto por uma insurreição da própria existência. O homem ali exposto em realidade pura e não apenas cênica é a documentação de nossas expectativas e limites de aprisionamento por respostas. Não existem. Ele apenas é. Isso deveria sim ser o suficiente para construção de valores e discursos até mesmo para o teatro.