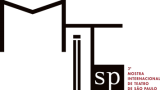Crítica sobre o espetáculo An Old Monk, por Helena Carnieri (Agora Crítica Teatral)
Uma das riquezas da arte é a multiplicidade infinita de formas para se expressar algo, abordar um assunto – e os temas mais relevantes à existência humana caem tão bem nesse tablado que é o palco, diante do qual vivenciamos experiências imediatas. Brasileiros ou belgas flamengos, a nós todos une esse escorrer da areia da passagem do tempo. Dezesseis anos, quarenta, oitenta, será que faz muita diferença?
A inevitável decadência do corpo é manuseada sujamente pelo escritor Philip Roth em Fantasma Sai de Cena (2008), quando o protagonista decide se tratar da incontinência e sua decorrente impotência enquanto revive as grandes questões de seu passado.
O performer Josse De Pauw, de 63 anos, também opta por olhar para o fim em An Old Monk, mas sua abordagem abandona a ironia encantadoramente grotesca de Roth para abraçar o puro divertimento, numa explosão de… vida. Como se fora um showman da música, mesmo um clown, quem sabe nos lembrando do saudoso grupo gaúcho Tangos e Tragédias, ele coloca a plateia em êxtase, ordenando a uma metade que entoe “trombosis” e, à outra, “prostatis”, para, no grand finale em coro, extrair do auditório o brado de “incontinentia!”
De Pauw é acompanhado por três músicos, que fazem um jazz em homenagem à obra e ao estilo de Thelonious Monk (1917-1982). Ao redor e entre eles, o belga se contorce numa dança livre, mas sofrida, lembrando as performances de Monk, mas como se lhe fora imposto o sacrifício da Sagração da Primavera, coreografia que em 1912 revolucionou o que é “permitido” fazer com o corpo em cena. Dançar até a morte.
E esse seu corpo que, ao final, será rememorado em fotografias manipuladas pelo pintor Benoît van Innis, serve de narrador para a história de um homem que dança. A carnalidade da metáfora dançarina para o sexo entra como um antídoto, uma tentativa de resistência à mortalidade. Surge daí, também, a analogia com a castidade do monge de que fala o título. A narrativa entra nas banalidades da vida, nas pílulas de angústia do dia a dia desse homem que vê escorrer não só o tempo, mas a pulsão, sabendo que quer mais.
O texto proposto por De Pauw, de sua autoria, traz a mistura de alta e baixa cultura. Com exímio domínio do show, arriscando palavras em espanhol, ele explica com bom humor que aquilo é “interação”. A graça das referências a imposto de renda e a outras atualidades se costura com alusões a Shakespeare e Gertrude Stein, numa poesia que ele entoa da mesma forma com que se move: com um sofrimento que resulta em verdade. Tem aquela presença artística que encanta o espectador. Ou confunde, fazendo rir da desgraça, mas não da alheia. É nossa também.
As ironias da fala dançante do performer são recebidas com olhares cúmplices por seu parceiro de criação musical, o pianista Kris Defoort. Enquanto o trio jazzístico inicia o show, que a cada noite parte de uma improvisação diferente, as canelas descontroladas de De Pauw são vistas por trás de um telão, dando o tom da simplicidade que se verá.
As andanças de De Pauw pelo palco usam a teatralidade em toda sua pureza estética, como quando ele deixa marcas de seus passos no chão enquanto cogita a possibilidade da vida eterna. O passado gospel de Thelonious Monk é ecoado, e a fé, talvez, desejada.
Numa mescla de autobiografia com referências ao ídolo dissonante do jazz, De Pauw nos transporta para um casamento longínquo, quase simbiose. Lamenta a ausência de Nellie, nome da mulher de Monk, tida como bastião de suporte para o músico que sofreu com a bipolaridade, tendo diagnósticos e tratamentos ruins – o que nos remete ao mito de que só a loucura torna o artista genial.
A trajetória pessoal do belga também envolve excentricidade. De Pauw é alguém que recusou, nos anos 1970, integrar-se ao mainstream do teatro europeu. As primeiras criações autorais já o aproximavam do humor de Tati e Chaplin, como lembra Marta Isaacsson no catálogo desta MITsp. Eram provocações sem palavras, que seriam nos anos 1980 substituídas pela verborragia do mundo contemporâneo, com frequência extraindo da própria vida o impulso criativo. Desde o começo, a “separação entre ator e personagem não parece, a ele, ser possível”, destaca Marta.
A diversão da noitada torna An Old Monk um desses espetáculos em que a epifania da proximidade da morte pode se dar sem querer, no ato, ao vivo. Não necessariamente se carrega na garganta para ruminar. Como instantes da existência que se vivencia ou se perde.