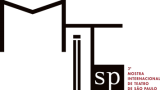Crítica sobre o espetáculo Revolting Music – Inventário das canções de protesto que libertaram a África do Sul, por Miguel Arcanjo Prado (www.miguelarcanjoprado.com)
Ser negro é ato político. Cada vez mais. Sobretudo neste Brasil de racismo velado, cotidiano. É o táxi que não para. É o suposto amigo que faz piada. É o papel de empregada e de bandido. É o apelido que diminui, ridiculariza e estereotipa. É a solidão de ser preterida. É a exigência de um corpo sexualizado. É a negação do exercício intelectual. É a ausência do poder de discurso em uma sociedade que teima em ser uma cópia barata de um modelo branco europeu, ocidental, falido. Modelo este que tenta extinguir o outro, o negro.
É dentro deste cruel panorama social contemporâneo que surge para o público brasileiro o espetáculo Revolting Music – Inventário das canções de protesto que libertaram a África do Sul, concebido e executado com forte presença cênica por Neo Muyanga, artista criado no emblemático gueto negro de Soweto, nos arredores de Joanesburgo, maior cidade sul-africana. Como o nome diz, o espetáculo elenca as músicas que integraram o imaginário e o campo emocional daquele país nos sombrios tempos em que negros e brancos eram separados legalmente pelo Estado, no regime de apartheid que vigorou entre 1948 e 1994, gerando mortes, perseguição e prisão de líderes negros, como Nelson Mandela (1918-2013).
Ao contrário da letra no papel, tão cultuada pela sociedade ocidental, a cultura negra e africana tem como base a oralidade. E Muyanga expõe isso naturalmente ao preferir conversar com seu público, de forma despretensiosa e longe de qualquer prepotência, explicando seu espetáculo e aquelas canções. Conta que falam diretamente com ele, com suas memórias de infância, com sua gente. Está à vontade. Afina a guitarra no palco sem culpa. Músico habilidoso com os instrumentos acoplados às novas tecnologias, utiliza os sintetizadores para criar um coro negro com sua própria voz — sua música dialoga fortemente com aquela produzida pela artista argentina Juana Molina, que também consegue transformar computadores em canto coletivo ancestral. E no canto de Muyanga está todo um povo, toda uma tradição, todo um sofrimento, toda uma gente.
A presença do artista é forte e incontestável. Longe de qualquer arrogância, Muyanga fala o pouco de português que sabe para dialogar ao coração de seu público. E consegue. Com maestria, encontra poesia e delicadeza para falar de um tema que é violento por si só em sua origem soberba e indefensável: o racismo. E é instigante como essas canções, tão fortes, delicadas e presentes, eram entoadas por aquele povo em um contexto tão adverso. Muyanga faz o gospel virar lamento. E encontrar a percussão, tão cara a ritmos negros como o afoxé e o candombe, tudo de forma natural. O batuque parece estar dentro dele, em sua alma, como na de cada negro. Ele ressignifica o piano e a guitarra com seu próprio corpo e sua voz, ao forjar o ritmo em sua musicalidade exuberante.
E, no Brasil, a força revolucionária embutida em poesia do espetáculo de Muyanga se completa na concretude da revolução sonora instaurada pela performance poético-política Em Legítima Defesa. Nesta, a voz é o principal instrumento, quando cerca de 20 atores negros adentram a plateia ao fim da apresentação para expor seu grito de dor diante de uma sociedade que os exclui, os maltrata e, principalmente, os mata. E o teatro não foge desta perversa equação social, já que todavia resiste em legitimar o negro em seus espaços — aí incluindo também a crítica teatral, na qual este crítico, negro, parece ser um dos raros a ter possibilidade de criar um discurso que contraste ao do branco privilegiado em nossa sociedade.
Com olhares fulminantes para a plateia majoritariamente branca, os artistas negros fizeram o público escutar o que lhes aflige. Seu discurso entalado, reprimido. Dominaram a fala sem concessões. Conquistaram a cena na marra. Eugênio Lima, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, fez a direção cênica do protesto e deu caráter de depoimento pessoal a cada uma das falas que ecoaram entremeadas pelo verso “a cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras”, da música Capítulo 4 Versículo 3, dos Racionais MC’s.
Mais do que elucubrar textos pretensiosos, tão caros ao pensamento branco, ao negro é preciso, antes de mais nada, sobreviver à sociedade, sua algoz. E um festival como a MITsp, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, ou qualquer outra manifestação artística, social e intelectual, precisa entender isso. Porque, no contexto atual, qualquer ação que ignore o negro, em qualquer uma de suas esferas, é racista. E não há justificativa. Num país que construiu sua riqueza à base da exploração desta parcela da população, ser artista demanda lutar contra essa opressão e, sobretudo, contra o discurso covarde que tenta culpar quem é vítima. É preciso visibilizar o negro. Afinal, como ensina o conceito africano ubuntu, só vai ser possível ser quando todos nós formos. Até lá, ser negro será ato político e altamente revolucionário.