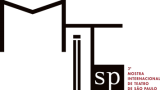Crítica a partir do espetáculo A Carga, por Michele Rolim (Agora Crítica Teatral)
Eu e uma amiga estávamos em uma loja de departamentos. Perguntei por um endereço e ela passou a vasculhar sua bolsa em busca do papel onde o tínhamos anotado. Alguns segundos e ela para, dizendo que seria melhor eu procurar porque poderiam pensar que ela estava roubando produtos da loja. Ela é negra. Naquele instante, percebi que a distância entre nossas realidades era maior do que pensava. Era uma distância talvez ignorada ou naturalizada por mim, mas por ela não havia como ser.
Não sei e nunca saberei o que minha amiga sentiu naquele dia, e o que sente diariamente. Lembrei-me dela quando assisti ao espetáculo A Carga, no espaço Itaú Cultural. Nele, o bailarino e coreógrafo congolês Faustin Linyekula evoca, principalmente por meio de seu corpo, as histórias da República Democrática do Congo – país que experimentou um brutal processo de colonização, guerras e ditaduras. Uma história que também constitui Linyekula. Ao se voltar a essa questão, ele está em busca de si mesmo, trazendo para o corpo as danças que apenas escutava e imaginava na sua infância, danças que, com a ditadura, foram proscritas como sendo satânicas e hoje já não existem.
A oralidade também tem um papel importante em A Carga. Linyekula abre o espetáculo dizendo “Eu sou um contador de histórias. Mas eu não estou aqui para contar histórias. Eu estou aqui para dançar”, “Nesses anos será que eu dancei verdadeiramente?” “Que diferença isso faz? e para quem faz?”. Em contraponto, a minha fala parte de uma branca de classe média. Também falo como filha de um país que é pós-colonizado, mas o Brasil escravizou – foi inclusive a última nação a libertar seus escravos. Minha condição é diferente. São outros atravessamentos. Mas também tenho um corpo que, por ser de uma mulher, é alvo de abusos diários e precisa resistir e se impor em uma sociedade patriarcal.
Como então se relacionar com uma obra que parece, no primeiro momento, só fazer sentido para quem experimentou situações semelhantes? A montagem cria condições para isso quando, fazendo uso inclusive de convenções do teatro ocidental e da performance, estabelece um ambiente de alteridade. Essa relação acontece quando percebo o outro como outro e a diferença do outro em relação a mim. Linyekula pergunta: “Para quem faz diferença eu contar histórias?”, mas, no instante que o espectador reconhece a história dele, o coreógrafo não é mais um estranho – é o outro. E nos reconhecemos na diferença.
O bailarino de 42 anos vem de um país que mudou constantemente de nome, no qual sua avó, por exemplo, não sabe a data em que nasceu, pois na época não havia registro. Uma pequena história que expõe o desafio constante de encontrar e reafirmar a identidade. A solução é lembrar. Mas a questão é “Como lembrar?”.De forma quase artesanal, Linyekula consegue isso ao estabelecer no palco um ritual potencializado por sons de tambor, luzes, canções, o som de sua voz e a presença de seu corpo. Um corpo que treme, dança, lembra e faz lembrar. As pontes com o público vão sendo estabelecidas progressivamente, já que temos em comum a construção da nossa identidade a partir de relações sociais, políticas, históricas e geográficas que estabelecemos.
Uma questão defendida por diversos sociólogos é que as lembranças que envolvem ideias e sentimentos são inspiradas pelo grupo, ou seja, elas se constituem no interior de um coletivo e estão fatalmente impregnadas do mundo social e cultural no qual o individuo está mergulhado. Podemos ainda pensar que a memória é também mediada por ideologias, linguagens, senso comum e instituições. Então, o processo de descolonização – que passa pelo corpo – é atravessado pelo lugar de onde falamos e, paralelamente, pelo reconhecimento do lugar de fala do outro.
“Será que eu verdadeiramente dancei nesses anos todos?”, pergunta Linyekula. Mas a compreensão da dança nesta montagem se dá de maneira ampliada. O corpo no palco é um ato político em si, é um caminho de protesto, é outra forma de contar sobre seu país. Esse corpo carrega como carga “cicatrizes” históricas, que muitas vezes ocupam uma esfera de invisibilidade em diversas sociedades. Ao dançar, Linyekula o liberta.
Foto: Ivson Miranda/Itaú Cultural.