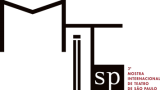Crítica de Renato Mendonça (Agora Crítica Teatral) para (A)polônia
Existem várias Polônias: aquela que saiu da órbita soviética para colocar o operário Walesa no poder, aquela que tolerou o antissemitismo durante a II Guerra Mundial, aquela que patrioticamente lutou para impor-se frente à Rússia e à Alemanha. Há a Polônia dos que resistiram aos nazistas, e aquela dos que colaboraram com o Reich. Uma Polônia dos que consideram vital reconhecer o passado para conquistar o futuro, e outra dos que optam por calar, seja por vergonha, seja por culpa.
E há (A)polônia, de Krzysztof Warlikowski.
No país que Warlikowski constrói sobre o palco, e que se conserva pelas quatro horas de função mais o tempo que reverbera em cada espectador, coexistem as Polônias acima. Não é convivência pacífica. É uma guerra. Todos os personagens são algozes ou vítimas, morrendo e matando por diversos motivos – e às vezes sem motivo algum. O criador polonês, entretanto, não distribui condenações morais, não amaldiçoa monstros ou idealiza mártires, não se limita ao leito do que seria humanitariamente correto, não toma partido. Na Polônia de Warlikowski a palavra-chave é “traição”. E sua vocação para a polêmica se completa quando defende que a vida e a morte, o modo de viver, de morrer e de matar são uma queda de braço entre instinto, ética, estratégia militar, coragem física, fortaleza moral, compromissos com o coletivo e fidelidade individual. A traição ocorrerá, resta saber a quem ou ao quê.
Registre-se que os temas de (A)polônia não partiram exclusivamente do diretor, mas essencialmente de inquietações discutidas e apontadas pelo elenco da peça. Como colocar em cena tantos e tais dilemas? Percebendo talvez a atemporalidade dessas lutas internas e externas, Warlikowski estabeleceu como centrais na peça fragmentos de criações da Grécia clássica: Ifigênia, de Ésquilo, e Alceste, de Eurípides. Há ainda um texto contemporâneo, justamente Apolônia, obra de Hannah Krall, a história verídica de uma mulher que foi morta pelo crime de ter salvo uma criança judia.
A encenação pode ser resumida como ríspida. As falas são dadas com rapidez, as vozes se alteram com facilidade. O cenário se compõe basicamente de dois pavilhões transparentes que se deslocam sobre o palco e de um pórtico metálico armado à frente do palco. A música é tocada ao vivo por uma banda que não se inibe em pular do punk light para a melô apaziguadora. Metal e plástico são o material de construção. Urgência, energia, ângulos retos e arranques são a tônica.
Curiosamente, frente a um espetáculo visualmente opulento, me ocorrem principalmente duas imagens. A primeira é a cena final, em que os atores, despidos de seus personagens, se reúnem dentro de uma das galerias para ouvir descontraidamente a banda tocar o tema final. A sensação é de uma festa particular para a qual o público não foi convidado, ou que deve se contentar em acompanhar do outro lado da janela. Outra imagem é a de uma espectadora que, no debate após a estreia, ainda no teatro, confessou aos atores que seguia tentando “elaborar a violência que tinha visto em cena”.
As duas lembranças remetem para um desafio que é tão grande como incontornável. Ao tratar de assunto intimamente ligado aos poloneses e, pode-se dizer, também aos povos expostos com mais proximidade e dor ao Holocausto e à devastação material e ética da II Grande Guerra, como sensibilizar os espectadores de lugares distantes desses traumas? Como fazer a plateia cruzar a fronteira e invadir (A)polônia? No mesmo debate, uma atriz da peça observou que a reação em cidades como Viena e Berlim foi evidente e previsível, mas que em Taipé o espetáculo surpreendentemente funcionou bem, provavelmente porque o povo chinês também experimentou as atrocidades de uma guerra total. É fato: a Humanidade se encarrega de gerar desumanidades não importa o local. Mas a forma como se embalam esses conflitos é decisiva para o sucesso que se terá em conquistar corações e mentes dos espectadores.
Warlikowski aposta no humor, no patético, no rigor de movimentos, na manutenção do clima das cenas sempre no topo. A palavra é a grande protagonista: ela justifica, interroga, conforma-se, inquire e desmascara. É onipresente, seja quando falas dos personagens, seja na letra das canções. O diretor parece exigir que se verbalize todo o tempo, que a violência e o perdão ganhem voz e apontem a saída para o impasse. Por outro lado, já que a palavra ocupa todos os espaços, não resta lugar para o silêncio, não aquele da omissão, mas o que fortalece a coragem de falar e se expande quando está a serviço do afeto. (A)polônia busca a revelação, mas não acena com o perdão. Um dos poucos momentos em que se vislumbra a compaixão (e seu silêncio) se dá em uma cena lateral – e muda – quando Apolônia cobre com uma manta uma menina, ou melhor, um dos manequins que o diretor espalha pelo palco para colocar em cena as maiores vítimas de uma guerra: as crianças, mensageiros involuntários que comunicarão ao futuro as patologias morais, éticas e sociais que testemunharem.
O primeiro ato se dedica a recontar as histórias de Ifigênia, que concorda em ser sacrificada para que as tropas de seu pai, Agamemnon, derrotem os troianos; e de Alceste, esposa-modelo que se dispõe a ser morta no lugar de seu marido, Admeto. Cada núcleo familiar desses condensa outros impasses, sacrifícios, traições. Com domínio da mitologia grega, pode-se rir das brincadeiras que envolvem a atualização dos deuses: quando Agamemnon vai abraçar Clitemnestra, recém-chegado dos campos de batalha, eles são interrompidos pelo Hino Nacional… Brasileiro. Alceste e Admeto defendem o título de casal perfeito respondendo a um quiz televisivo, projetado no fundo do palco, respondendo a perguntas como “Você prefere Robert Redford ou Paul Newman?”. E a imagem congela quando o entrevistador pergunta se cada um morreria pelo outro. Ou ainda quando os rostos de Atena, Apolo e Zeus dividem a tela em um chat de voz e imagem, travando algo como uma DR olímpica e virtual.
Importante frisar que a utilização de vídeos, todos eles gerados ao vivo, é absolutamente procedente e agrega não só ângulos e closes, mas significados. O caso mais dramático é ainda na cena de Ifigênia, quando a câmera se coloca junto a um dos manequins, captando o que seria o ponto de vista da “criança”. O uso de microfones também ganha um sentido especial quando Clitemnestra explica por que assassinou seu marido, Agamemnon. O tom dela é exaltado, pastiche de oradores nazistas. E as microfonias só reforçam a sensação de que se está no palanque precário de um comício político.
Um monólogo é particularmente contundente. Agamemnon serve de “cavalo” para as palavras do oficial SS Maximilien Aue, personagem criada por Jonathan Littel no livro As Benevolentes. Aue/Agamemnon justifica a participação na Solução Final com uma pergunta: “Quem não faria o que eu fiz?”. Seria tudo questão de sorte, de circunstância, de a vida nos conduzir a um beco sem saída ou a uma rota de fuga. A irreverência chega a ser chocante: o personagem, depois de descrever detalhadamente uma penetração sexual, se orgulha ao concluir que “Guerra e próstata são os maiores presentes que Deus deu aos homens por eles não serem mulheres”.
O segundo ato amplia o desconforto – mas fornece pistas. Começa com uma conferência de Elizabeth Costello, personagem do livro homônimo de J.M. Coetzee, que de maneira desconcertante estabelece paralelos entre as atrocidades nazistas e a matança de animais nos dias atuais. Ela relativiza a responsabilidade de quem conviveu com massacres na Polônia durante a guerra: a ignorância (ou a simulação desta) seria a única garantia de sobrevivência e de não se extinguir o mínimo de dignidade, mesmo que impostura.
A argumentação exótica de Costello, todavia, ajuda a estabelecer um silogismo. A ver: algozes e vítimas são, alternadamente, animalizados. Os nazistas são “porcos assassinos”, enquanto os judeus e outros grupos que foram alvo de soluções finais seguiram para o aniquilamento “como cordeirinhos”. Por outro lado, a conferencista defende tratar os animais como humanos. Logo: algozes e vítimas devem ser tratados como humanos. Não significa perdão incondicional, prescrição de responsabilidades, mas a procura de uma explicação e a tentativa de prevenção do horror, assumindo que nossa natureza moral e ética é complexa e frágil. Uma demonização simplista atribui e congela a culpa em atores e em incidentes históricos, o que nos impede de aceitar nosso equilíbrio instável entre o Bem e o Mal.
(A)polônia defende a relativização do absoluto. O texto dramático assume esse conceito e o expõe, seja nas cenas em si, seja na disposição das cenas, mas o fluir incessante de palavras, o cenário compartimentado e avesso a contaminações, e a renúncia de um momento de conciliação (que talvez se dê, como dissemos, na cena final, mas entre os atores) dificultam a empatia pelo espetáculo. Warlikowski, como artista independente que é, não se preocupa em facilitar. Nem deve. Da viagem de quatro horas, levamos não apenas o prazer de conferir a excelência artística do Nowy Teatr, de Varsóvia, mas também o confronto com a estética e as convicções de um criador que não trai seu talento para provocar.
Foto de Mayra Azzi.