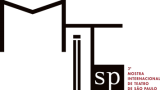Crítica sobre o espetáculo A Carga, por Ruy Filho (Agora Crítica Teatral)
O quanto nossas origens reverberam em nós, o quanto sobram e permanecem, e por permanecerem o quanto reconhecemos de nós mesmos nessa relação? São perguntas aparentemente impossíveis de responder, pois há nelas tamanha subjetividade que as variantes se revelam infinitas e incompletas. Apenas ao próprio indivíduo algo se aponta como definitivo, e traduzi-lo em palavras é tanto quanto limitado aos sentidos que possuem. Por isso, o corpo surge para além do complemento. É ele a dimensão mais radical à transcrição das subjetividades, sem impor-lhes conclusões indiscutíveis, mas possibilitando ao olhar de quem a ele assiste representar um diálogo aberto e circular.
Tudo isso está em A Carga, de Fautin Linyekula, de modo surpreendentemente simples, delicado e profundo. Inicia explicando, e quase se impondo tal limite, ser ele apenas um contador de histórias. Por tal ação, tem viajado o mundo levando as narrativas de seu povo, sua tribo, sua cultura, seu passado e presente. O lugar em si, sua terra natal, o Congo, intercala guerra e peste. Ainda se morre de peste, conta. Todavia, o artista está aqui para dançar. E nisso há um argumento mais profundo que conduz o entendimento da ação de contar histórias como sendo um artifício para algo mais profundo. Não se trata apenas de expor as narrativas de seu povo. É preciso falar sobre as origens para que elas permaneçam naquele que as conta. A fala, então, assume no espetáculo a característica de aproximação do artista com as diversas narrativas de um mundo em constante mutação. Trata-se de salvar não o passado, mas a si mesmo, a partir do entendimento de ser a memória fundamental à construção da persona. A palavra, o contar algo, as histórias escolhidas e oferecidas revelam mais profundamente aquele que conta, já que a experiência de encontro com a territorialidade e cultura permanece inevitavelmente apenas rascunhada e inacessível.
Faustin precisa do corpo, e por isso dança. Dança exatamente pela compreensão de serem as palavras incompletas. Dança como meio de reconstruir a memória materialmente, provocando sua presença e construção visualmente. O exercício de recuperar o corpo ancestral, no caso do espetáculo pelos movimentos de danças proibidas, já não mais dançadas, luta por salvar o passado e salvar-se ao futuro. Nessa intersecção de tempos, o corpo presentifica o artista em sua dimensão de linguagem pura e não apenas como suporte à coreografias ou metáforas. O simbolismo da dança se esvazia da obviedade atribuída às tradições, e, ainda que abarque exatamente isso, surge como potência do homem, do ser, do indivíduo.
Poderia ser essa a resposta do artista, então. Contar a história como reencontro com as origens, dançar como tentativa de pelo corpo recuperar e reter a memória, sensações e lembranças. Todavia, Faustin se pergunta se de fato é capaz de dançar. Não se trata das qualidades dos gestos e movimentos, mas do quanto conseguirá efetivar a recuperação de sua história. O corpo que viaja o mundo acumula experiências de culturas e contextos diversos, contamina-se sem escolha e proteção, e nessa sedimentação outro indivíduo é formado. Não há como escapar a isso. Ao se perguntar sobre sua capacidade, então, o artista indaga sobre o quanto em si ainda é congolês e pertencente às próprias histórias que narra. Ele tenta, repete, e parece não se satisfazer ou assumir em certo tom de saudade àquilo que pouco a pouco nubla e se desvia da memória.
Um microfone virado ao livro, um computador rodando fotos de Congo. O artista deixa a cena e nos entrega a imagem e o silêncio como últimas possibilidades do retorno, do reencontro, da permanência. Elas pouco dizem ao espectador. Mas são belas de olhar, ainda assim. É como se Faustin construísse em nós uma memória de algo nunca vivido ou imaginado. A cada imagem surgida, somos acometidos por nossas próprias lembranças que ressurgem e completam, combinam as originais. O movimento exige mesmo o silêncio. E, ao final, ao reacender das luzes, a sensação de que rever o artista é como encontrar uma parte nossa. Faustin consegue delicadamente construir no espectador um pouco dele mesmo. E com isso, nos contagia com o Congo. Se contar uma história é trazer algo a alguém pela palavra, a dança extremamente técnica, simbólica e emotiva comprova a potência do corpo ser discurso. E funciona radicalmente bem.
Foto: Ivson Miranda/Itaú Cultural.