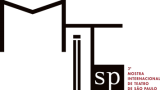Crítica a partir do espetáculo (A)Polônia, por Maria Eugênia de Menezes Teatrojornal/DocumentaCena)
Qualquer apreciação crítica escrita no calor do momento, sem o devido tempo de maturação, e confinada ao espaço de uma página não conseguirá dar conta da profusão de signos e discursos que Krzysztof Warlikowski põe em marcha no seu (A)polônia. Resta o consolo de que um pouco mais de tempo – ou de espaço – faria pouca diferença nessa complicada equação. O que o diretor polonês propõe nessa criação é uma experiência de pensamento. Experiência porque se trata de dar a conhecer algo por meio dos sentidos, não apenas da palavra. Como se um conjunto de fábulas tivesse sido posto em movimento com o propósito de levar o espectador a olhar – olhar firmemente, verdadeiramente – para algumas ideias. E isso não da maneira como ideias podem ser discutidas em artigos de jornais ou em tratados filosóficos, mas pela forma muito particular com que só a arte pode dar a ver o que esteve sempre à mostra, mas oculto.
Nascido logo após o fim da Segunda Guerra, Warlikowski faz aqui um esforço para compreender o que se passou na Polônia. E como isso reverbera ainda hoje. Território invadido pelos alemães, cenário principal do Holocausto, domínio do regime comunista nos anos que se seguiram, o país empunha certa veste de mártir, com uma história atravessada por episódios de suplício. Lembremos que na base das religiões judaico-cristãs (organizadoras de nossa moral, não importa quão laicos nos julguemos) estão as ofertas e os sacrifícios. Cristo foi entregue à morte bárbara para a redenção do mundo, assim como os israelitas que buscavam libertar-se de seus pecados deviam preparar um animal puro, cortar-lhe a garganta, extrair seu sangue e ofertá-lo a Deus naquilo que a Bíblia denomina, em seu livro terceiro, como Altar de Holocausto.
A partir dessa distorcida autoimagem de uma nação, que persiste em desconsiderar as próprias feridas e faltas para se ver como o ‘cordeiro’ sacrificado, (A)Polônia instaura um balé de tempos e narrativas, mescla de personagens gregos a outras figuras trágicas de feição contemporânea, caso da verídica Apolonia Machczynska, assassinada por esconder judeus em sua casa. Ou do depoimento contundente de Elizabeth Costello, personagem do escritor sul-africano J.M. Coetzee, sobre a matança de animais. Símbolo máximo do sacrifício feminino, Ifigênia foi oferecida pelo pai, Agamemnon, à deusa Ártemis. Em troca, os exércitos gregos teriam bons ventos para seus navios a caminho de Troia.
Sem referências à antiguidade clássica ou a qualquer outra época que não a presente, os pedaços de narrativas orquestrados por Warlikowski não se encaixam uns aos outros à perfeição. Não existe a ambição por uma trama coesa, de conclusão inconteste. São múltiplos os pontos de vista, múltiplas as vozes e as motivações desses personagens. Acompanhamos os desdobramentos do sacrifício de Ifigênia, que resultará nos assassinatos de seu pai e de sua mãe, Clitemnestra. Saltamos dali para o ato de Alceste, a princesa descrita por Eurípedes que se oferece para morrer no lugar do marido, Admeto. E, sem intervalo, para a história de Apolônia, castigada pelos nazistas por evitar outras mortes. Não existe um tema em (A)Polônia. Seria impreciso dizer que a obra trata majoritariamente da guerra. Ou da ética. Ou do medo. Mas existem algumas perguntas que insistem. Morrer ou não pelo outro? O que uma morte é capaz de redimir? Quanto de altruísmo existe em uma morte que afeta a outros?
A morte de Ifigênia serve a um propósito maior, a um ideal. Ela entrega-se e aceita seu destino. Nos casos de Alceste e Apolônia, o sacrifício não se dá por uma abstração, mas por outros homens e mulheres. Uma morte no lugar de outras. Encarnações do nosso ideal de amor – tão irrestrito que capaz de abdicar da própria vida. A obscenidade que podemos ver no apego à própria vida também irrompe ao longo do espetáculo. Os pais de Admeto, mesmo velhos, não se oferecem para tomar o lugar do filho. O pai de Apolônia, mesmo que ela esteja grávida, não se dispõe a lutar por ela. O soldado alemão que a amava é obrigado a matá-la. (Poderia recursar-se. Pagando por isso com a sua morte. Mas, entre o amor e a vida, apega-se à vida). Há outros exemplos desse apego: para não serem capturadas pelos nazistas, mulheres sufocam um bebê que chorava. Para salvar a si e aos dois filhos, uma judia entrega aqueles que estavam escondidos. Para seguir vivendo, populações inteiras fecharam os olhos ao que se passava na Europa em guerra. As crianças, reiteradas vezes evocadas ao longo da encenação, não foram consultadas por seus pais que resolveram matar ou morrer. Não é mero relativismo. O que o diretor explicita é sua descrença em leituras unívocas e redentoras.
Mas nada disso descamba em cerebralismo. A força das atuações dos intérpretes é tão determinante quanto o que é dito. Há o mergulho no registro trágico, mas sem que se perca a possibilidade do comentário irônico. Há a música, executada ao vivo, a servir como vigilante contraponto ao drama. Há a plasticidade irretorquível de cada uma de suas cenas. Alguma mágica que torna impossível a tarefa de apartar beleza e horror.