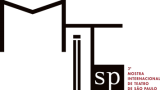Crítica sobre o espetáculo Ça ira, por Daniel Toledo (Horizonte da Cena/ DocumentaCena)
O ano é 1789, mas poderia ser 2016. Estamos na França do rei Luis XVI, mas poderia ser em outro contexto, e assistimos a partir de múltiplos ângulos a conflitos de interesses que revelam divergentes visões de mundo, assim como deixam ver as sucessivas contradições que permeiam nosso comportamento político e, de igual modo, o comportamento político daqueles que, idealmente, deveriam nos representar. Em Ça ira, obra realizada pelo autor e diretor francês Jöel Pommerat em colaboração com a Compagnie Louis Brouillard, visitamos ao longo de três atos diferentes instâncias de um emergente sistema democrático no qual o povo, mesmo que ainda submetido à Igreja e eventualmente encantado com a mítica figura do rei, começa a reivindicar direitos e a questionar privilégios.
Iniciada com um pronunciamento formal do primeiro ministro francês sobre a eterna necessidade de se aumentar a receita do Estado, a encenação rapidamente ganha contornos mais complexos, convertendo, por vezes, o teatro – aqui compreendido como ambiente que inclui palco e plateia – em uma grande assembleia onde novas – e velhas – vozes surgem a cada instante. Desse modo, enquanto algumas cenas são vistas “pelo buraco da fechadura”, outras inserem os atores em situações de grande proximidade com o espectador, convertendo-nos em silenciosos integrantes dessa mesma assembleia. Nesse trânsito entre faces públicas, semipúblicas e privadas do sistema democrático, constitui-se, pouco a pouco, uma cena polifônica, difusa e por vezes caótica, marcada por vozes e visões dissonantes que claramente ecoam sobre o momento político e social que, como brasileiros, atualmente experimentamos. “Quais são as prioridades desse país?”, ouve-se, em certo ponto do espetáculo, sem que alguma resposta se ofereça.
Também a visualidade do espetáculo, não por acaso, nos parece bastante familiar. Apropriando-se de estruturas espaciais relacionadas a situações sociais concretas e, ainda que através de mediações, bastante conhecidas pelo espectador, tais como uma reunião oficial, um pronunciamento público e a própria assembleia de deputados, o que se tem em boa parte de Ça ira são ternos que circulam aqui e acolá, quase sempre movidos por homens brancos e discursos que não tardam a revelar suas contradições. Ainda que numerosos personagens e, portanto, o próprio espetáculo transitem por diferentes ambientes e contextos, uma atmosfera de inércia, repetição e esvaziamento por vezes toma conta da cena, dando a ver um claro engessamento das estruturas democráticas, frequentemente sabotadas por aqueles que apenas desejam manter-se no poder, seja na França do século XVIII ou no Brasil atual.
Conduzido por três grupos distintos, ali associados à Igreja, à nobreza e ao povo, os debates a que assistimos em cena colocam em disputa uma visão materialista da realidade, permeada por problemas concretos como a fome, a guerra civil e a fundadora desigualdade, e uma visão católica, segundo a qual tal desigualdade seria um pressuposto a ser respeitado e aceito como fato natural. Apoiado em conceitos subjetivos como o bem, o belo e o sagrado, este segundo grupo, ali representado pela Igreja e a nobreza, recorrentemente desqualifica as questões colocadas pelo primeiro, constituindo declarada recusa ao mundo real e suas questões. Nesse sentido, enquanto uns entendem a justiça como mera execução da lei, outros questionam a lei e associam a mesma justiça a verdades concretas, reconhecíveis por todos.
Imersos neste infindável debate, gradativamente nos reconhecemos, de dentro da plateia, como integrantes de um mesmo grupo social. Desprovidos de privilégios como a voz e também a ocupação dos espaços de voz, participamos passivamente do jogo democrático. Ainda que vez ou outra nos identifiquemos com visões e conflitos postos em cena, somos conduzidos a uma situação em que a atitude silenciosa que nos é reservada se torna cada vez mais angustiante. Silenciosos, assistimos a debates que muito nos interessam, mas dos quais somos frequentemente excluídos, tocando em temas como o monopólio da violência pelo Estado, a dimensão utópica dos direitos humanos e o absurdo dever de respeitar um sistema social que, a partir de estratégias mais ou menos evidentes, nos conduz ao apaziguamento e nos submete aos mandos e desmandos de Deus, do Estado e até mesmo da propriedade privada.
Cúmplices silenciosos de uma atitude cínica e de discursos esvaziados que carregam em si claras contradições em relação às práticas daqueles que os proferem, testemunhamos a exaustão de um sistema cujas instituições inegavelmente vêm se deteriorando ao longo do tempo. Como se voltássemos às origens desse sistema exausto que hoje nos governa, somos convocados a refletir sobre a persistência histórica de estruturas políticas que muito pouco se transformam, convertendo, por exemplo, a antiga nobreza em uma classe de governantes que, para além dos privilégios de outrora, têm, hoje, suposta chancela do povo em relação às decisões que tomam em salas, gabinetes e assembleias. ”Vocês, que nunca subiram aqui, um dia vão se arrepender”, escutamos, mais adiante, em novo apelo para que o silêncio manifestado na sala de teatro não se reproduza nos espaços políticos e sociais que ocupamos do lado de fora.